Esta reportagem foi desenvolvida por alunos do curso de Jornalismo do Centro Universitário Fluminense (UNIFLU) em projeto desenvolvido na disciplina Redação Jornalística I, em 2019.1, ministrada pela professora doutora Jacqueline Deolindo Curvello. O texto é publicado no Jornal Terceira Via por meio de uma parceria entre o veículo e a coordenação do curso.


A historiadora e professora Sylvia Paes durante entrevista para a aluna Júlia Pinheiro, do curso de Jornalismo do UNIFLU, no Museu Histórico de Campos
Em 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos e, graças a ela, a dignidade de milhões de pessoas tem sido foco de políticas públicas em diversos países. Prevenir e repreender o crime de genocídio, por exemplo, está em um de seus tratados, mas quando se fala no assunto, geralmente se considera a destruição física, ignorando o fato de que o genocídio também pode ser o extermínio de uma civilização através da morte de sua cultura, o que é conhecido por etnocídio.
Não é preciso ir muito longe para entender como esse genocídio cultural funciona. Vivemos em uma cidade, Campos dos Goytacazes, que leva o nome de um grupo indígena, mas as informações que temos sobre esse povo são muito escassas. Segundo a historiadora Sylvia Paes, a colonização já começou matando a cultura indígena local a partir do momento em que os colonizadores não compreenderam linguisticamente os índios, que foram sendo expulsos e empurrados para o interior do Brasil.
No caso do índio Goytacá, Sylvia explica:


Professor Arthur Soffiati com um exemplar do seu livro “O Norte do Rio de Janeiro no século XVI” que foi lançado em 2019
Outro fato que mina a história do índio brasileiro é a versão colonialista que é contada só a partir de 1500, quando, na verdade, esses povos já habitavam o território há mais de 10 mil anos. Questionado se essa exclusão da história indígena se deve à falta de material de pesquisa, o historiador ambiental Arthur Soffiati responde:
Descobertas e desconhecimentos – Em Campos, foi descoberta no final dos anos 1980 uma área repleta desses vestígios, batizada de Sítio Arqueológico do Caju. Os pesquisadores desenterraram ossos, encontraram restos de alimentos, fossas de lixo orgânico, cerca de seis toneladas de cacos de cerâmica e 13 urnas de sepultamento. Todo esse material, que pode ser estudado, hoje se encontra no IAB (Instituto de Arqueologia Brasileiro), no Rio de Janeiro.
Mas como era o índio Goytacá? Uma evidência de que o conhecimento local é superficial a esse respeito é a famosa “estátua do índio”, escultura que ficava em uma das entradas da cidade, próximo ao Shopping Estrada. Na verdade, segundo Sylvia Paes, a imagem em nada se parecia com a figura original que habitou essas terras.
O genocídio cultural distorce e reduz até apagar aos poucos toda a história de um povo, como se o passado não merecesse ser recuperado e não fosse necessário para a nossa formação. Para mudar isso, Sylvia Paes tem trabalhado com a colega Carmen Sampaio, também historiadora e professora, na escrita de livros infantis que falam da cultura local:


Sérgio Risso, professor do IFF Campos e membro do NEABI (Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas)
Educação e memória – De acordo com os entrevistados, há um caminho para se cumprir o que é proposto pela Organização das Nações Unidas: o da educação. Para o historiador e sociólogo Sérgio Risso, membro do NEABI (Núcleo de Estudos Afrobrasileiros/Indígenas) do IFF Campos, é fundamental o envolvimento das instituições de ensino para que seja feito um trabalho de desconstrução dos estereótipos e, ao mesmo tempo, de construção de uma memória.
O Museu Histórico de Campos possui hoje um pequeno acervo com material do Sítio Arqueológico do Caju e o Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho está repleto de conteúdo a ser estudado, incluindo literatura de autores regionais. São espaços propagadores de cultura e informação, onde os visitantes podem, mesmo que tardiamente, ajudar a manter acesa a chama da nossa memória cultural.
O Governo Vargas estabeleceu, em 1943, que o dia 19 de abril seria consagrado à homenagem aos nativos do país. O Dia do Índio é celebrado até hoje, em especial nas escolas de ensino fundamental, visando promover conhecimento e reconhecimento das diversas culturas indígenas que existem ou existiram no Brasil – ou assim era para ser.
Cocar na cabeça, pinturas no rosto e imagem de guerreiro que luta nos topos do planalto: essa é a imagem estereotipada com a qual muitas crianças acabam tendo contato em suas escolas, o que, segundo especialistas, contribui para a perda da identidade das inúmeras etnias indígenas que habitaram, e ainda habitam, o país.
O historiador Arthur Soffiati, estudioso da história ambiental do Norte e Noroeste Fluminense, é enfático ao afirmar que o Dia do Índio não deveria sequer existir.
De acordo com Sylvia Paes, especialista em Geografia Humana, professores estão sendo orientados a mudarem suas abordagens.


As autoras campistas Sylvia Paes e Carmen Sampaio com o exemplar “Ururau Pançudo” da coleção “Tô Chegando” e o ilustrador Alício Gomes
Com o intuito de propagar a cultura local de forma lúdica para as novas gerações, as professoras Sylvia Paes e Carmen Sampaio, ambas historiadoras, desenvolvem desde 2012 uma coleção de histórias para os pequenos. Segundo Sylvia Paes, é fundamental que as crianças vivenciem essas histórias desde cedo para que conheçam e valorizem o patrimônio cultural do lugar em que vivem.
Percebendo a dificuldade dos professores da região em encontrar material didático apropriado, elas criaram a coleção “Tô Chegando”: trata-se de livros infanto-juvenis, paradidáticos, com foco no patrimônio cultural local e regional. A intertextualidade ficou por conta dos personagens, que transitam pelas histórias uns dos outros. Um glossário com palavras características da região e propostas de atividades acompanham os livros para promoverem fixação e complementação do conhecimento.
O primeiro exemplar, “Ururau Pançudo”, foi lançado em 2014 e fala sobre a lenda do Ururau da Lapa. Dialogando com o leitor, o livro cita o sino, o famoso bicho de pança amarela, chuviscos e ainda conta a história de amor da moça bonita que queria fugir para se casar.
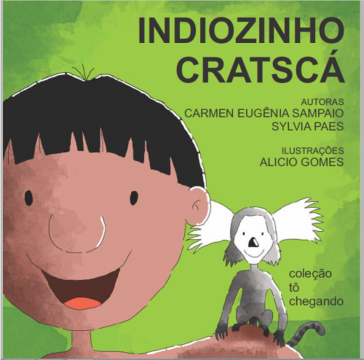
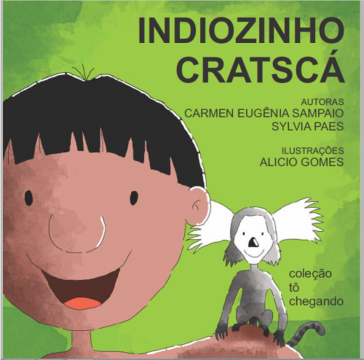
Livro “Indiozinho Cratscá” das autoras campistas Sylvia Paes e Carmen Sampaio
A coleção conta ainda com “Indiozinho Cratscá”, que dá informações sobre os indígenas goytacazes; “Rainha Ray’a”, que se passa no distrito de Murundu e tem como personagem uma formiguinha gulosa que fala dos tradicionais doces da culinária campista; “Chiquinha Faceira”, que conta a história de uma mulata chamada Francisca que adorava dançar a Mana-Chica; e o mais recente, “O Mistério do Jongo”, em que Vô Jerônimo, um preto-velho muito sabido, sonha com músicas e com o som dos tambores.
Enxergando na literatura uma forma de combate ao genocídio cultural, essa coletânea reúne memórias locais que contribuem para a educação patrimonial das novas gerações.
As escritoras fazem parte do grupo “Autoras e Autores Campistas”, que sempre participa de eventos culturais na cidade, onde é possível encontrar, para compra, os exemplares dos livros citados. Eles também estão à venda nas livrarias Noblesse e Ao Livro Verde, que ficam no Centro de Campos, e na Leitura, do Shopping Boulevard.


EQUIPE
Pauta e Reportagem: Júlia Pinheiro, Laila Póvoa, Laura Lopes, Marina Bruno e Rafael Freitas.
Fotos: Laila Póvoa e Laura Lopes;
Podcast: Júlia Pinheiro, Laila Póvoa, Laura Lopes, Marina Bruno e Rafael Freitas.
Vídeo: Júlia Pinheiro, Laila Póvoa, Laura Lopes, Marina Bruno e Rafael Freitas.
Edição de vídeo: Rafael Freitas.


Professor Arthur Soffiati em entrevista para alunas Laila Póvoa e Marina Bruno


Peças do acervo do Museu Histórico de Campos


Peças do acervo do Museu Histórico de Campos


Peças do acervo do Museu Histórico de Campos


Interior do Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho


Professor Arthur Soffiati durante entrevista


Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho


Aluna Laila Póvoa durante gravação com o professor Arthur Soffiati


O museólogo Carlos Roberto Freitas durante entrevista aos alunos do curso de Jornalismo do UNIFLU


O museólogo Carlos Roberto Freitas com o exemplar manuscrito do Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho